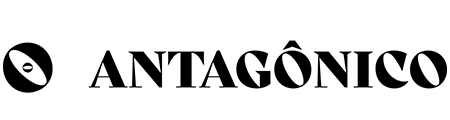Meio Ambiente
A Cargil. Santarém. Miritituba. Os Danos Ambientais. A Violação a Leis e Tratados Internacionais
Publicado
2 anos atrásem
Por
O Antagônico
O Antagônico publica abaixo uma matéria da série Insustentáveis, parceria do Transnational Law Institute, do King’s College de Londres, com SUMAÚMA – Jornalismo do Centro do Mundo, narrando os estragos ambientais causados pela empresa Cargil na Amazônia, mais precisamente em Santarém e no porto de Miritituba, distrito de Itaituba. O texto é de Isabel Harari e a foto é de Alessandro Falco. Veja o texto abaixo na íntegra:
A primeira vez que Clodoaldo Santos viu soja foi na barriga de um peixe. Tucunaré, como o homem de 53 anos é conhecido, pescava na baía do Marapatá quando se deparou com um grão já mole dentro do bucho do mandi, um bagre comum na região. “Esse peixe está melhor do que a gente, comendo até feijão!”, brincou. Foi seu cunhado quem explicou que aquilo era soja, derrubada no rio por uma das balsas que levam os grãos para fora do Brasil. O pescador nasceu em uma das 72 ilhas de Abaetetuba, no Pará, na Amazônia brasileira. Aprendeu com seu pai, ainda criança, o ofício e o tempo das marés, a reconhecer sementes de açaí, babaçu, cacau e seringueira. Mas a desconhecida leguminosa da costa leste da Ásia avançava sorrateiramente em direção ao seu quintal. E ele em breve precisaria lutar pelo território onde nasceu e cresceu.
A multinacional estadunidense Cargill construiu dois portos no estado, nas cidades de Santarém, em 2003, e de Miritituba, em 2017. Tudo foi feito sem consultar as comunidades tradicionais impactadas e, no caso de Santarém, violando ao menos nove leis, convenções e tratados internacionais, de acordo com relatório da organização Terra de Direitos. A paisagem na região norte do Pará vem mudando. A floresta agoniza em meio às plantações. Mesmo depois de ter cometido uma série de irregularidades nessas duas obras anteriores, o gigante transnacional planeja construir uma terceira instalação portuária bem em frente à casa de Tucunaré. Para isso, mais uma vez, atua sem ouvir as comunidades afetadas. Comprou um terreno sobreposto a um assentamento da reforma agrária, em uma operação considerada suspeita pelo Ministério Público Federal (MPF). Em junho, o órgão entrou com um pedido na Justiça solicitando a suspensão do projeto. Pediu também a seu Núcleo de Combate à Corrupção uma investigação mais detalhada, já que recaem suspeitas sobre a atuação de servidores públicos.
As ilhas de Abaetetuba estão localizadas na confluência dos rios Tocantins e Pará, a 120 quilômetros de Belém, e abrigam mais de 7 mil famílias ribeirinhas que vivem no pulso dos rios e das chuvas. Na época da seca, elas coletam açaí. No inverno, quando o rio enche, a pesca domina o cotidiano. Por essas ilhas se espalham 24 assentamentos da reforma agrária, vizinhos às casas de outras 700 famílias quilombolas. A maré dita o ritmo da vida. A enchente e a vazante fazem um bailado invisível para os que não são dali. Mas Tucunaré é. E sabe a hora de entrar no igarapé. O pescador ajeita o motor no barco e segue certeiro em meio ao caminho de rio que cruza a vegetação fechada. Passa ao lado de seringueiras centenárias que conhece desde que nasceu, mas que agora estão cercadas por grandes estacas de concreto, objetos estranhos à paisagem da floresta. Essas estruturas margeiam pela direita o igarapé São José e chegam ao quintal dos moradores da comunidade. Formam uma cerca e delimitam o terreno comprado pela Cargill onde futuramente poderá haver o porto se a empresa mais uma vez conseguir vencer todas as barreiras da legislação ambiental.
As grandes estacas de concreto estão fincadas num açaizal coletivo. Já cheias de limo e úmidas da floresta, que tenta retomar seu espaço, não precisam de arame farpado – apesar de ostentarem buracos para a passagem dos fios. A existência das estacas já cumpre a função de manter os moradores longe dali. “A maior parte do povo não vai [mais tirar açaí] porque tem medo”, lamenta um pescador da comunidade São José que teme se identificar e sofrer represálias da empresa. O açaizal não é a única área coletiva cercada pela Cargill. A floresta fechada desemboca em uma área ampla, ensolarada, alagada e fecunda: são os três lagos das ilhas. Um grande berçário de peixes, pássaros e insetos onde há gerações a população coleta madeira para suas casas e sementes para suas hortas. O maior dos lagos, Piri Grande, fica dentro da área comprada pelo gigante estadunidense. “Já colocaram uma divisa dentro do lago. Se uma empresa dessa entrar ali, acabou. Nem os bichos vão ter sossego”, lamenta Pedro de Alcântara, pescador da comunidade Igarapé Vilar, vizinha ao Piri. Com 80 anos, Pedro teme que o lago seja destruído para a construção do porto.
Enquanto prepara iscas com uma mistura de babaçu e farelo embrulhada na palha do tururi, um macete usado pelos pescadores de Abaetetuba, Osvaldo de Sousa, seu Vadico, fala da vida que pode desaparecer. “Aqui a gente pesca camarão, filhote, pescada, dourada, piaba, mandubé, mandi, mapará, sarda, tucunaré, caratinga, branquinha, tainha, jacundá, ituí… É assim que a gente sobrevive”, diz. Horas depois, já no rio, seu Vadico amarra os matapis, que usa para capturar camarão, em estacas que se estendem pelas margens da ilha. Quando ergue a cabeça e olha para a frente, avista a área que a Cargill delimitou. Ali, a maré muda várias vezes ao dia, mas seu Vadico conhece bem o movimento: sabe a hora certa de tirar os matapis sem ficar preso nos bancos de areia quando a água desce. Um conhecimento que pode se perder com a imposição do porto. A Cargill admite, em um relatório de impacto ambiental, que o empreendimento pode provocar uma “eventual alteração da dinâmica das marés” e uma “interferência na atividade pesqueira”. Também diz que será necessário retirar areia do fundo do rio e que os píeres de atracação de embarcações podem afetar “de forma pontual” a velocidade, a direção e a quantidade de sedimentos das águas. Nesse estudo, chamado de “Rima”, a empresa não informa o que acontecerá com o lago depois da construção da estrutura portuária. Pelo projeto, o terminal inclui um sistema de carregamento e armazenamento de grãos em silos metálicos com capacidade de 16,8 toneladas.
Os pescadores da região sabem que os impactos do novo porto serão maiores que os apresentados pela empresa. Nos estudos, a Cargill não menciona a existência dos pedrais, estruturas naturais que são locais de reprodução e alimento de peixes. “O pedral contém a comida do peixe; se eles destruírem, vai nos afetar muito. Quem sobrevive aqui sabe a quantidade de peixes que a gente pega lá. Dá até pro vizinho”, alerta seu Vadico. Em cada uma das ilhas, as áreas de pesca são contadas em dezenas. Na do Xingu, são pelo menos 56, diz Deyvson Pereira Azevedo, morador da Ilha do Capim, próxima ao terreno comprado pela Cargill. Nessa ilha, onde há 120 áreas de pesca, os ribeirinhos produzem açaí, mel, pólen e conhecimento acadêmico: Deyvson é pesquisador de sustentabilidade e povos tradicionais da Universidade de Brasília. Para ele, desconsiderar o pedral nos estudos é uma “omissão” que visa destruir. “O que a empresa está propondo é exatamente cercar os bens comuns, as florestas comunitárias, e destruir”, explica Hueliton Azevedo, irmão de Deyvson. Hueliton, que também é coordenador do Movimento dos Ribeirinhos e Ribeirinhas das Ilhas e Várzeas de Abaetetuba, vai além: “Para passar as embarcações [com soja], é preciso destruir o pedral, mas no estudo de impacto ambiental não está dito isso. Há uma tentativa de esconder consequências negativas que poderiam impedir a validade ambiental do projeto”. Os moradores dizem que a linguagem técnica dos relatórios esconde a dimensão dos impactos que serão causados pelo terminal portuário: se instalado, a Cargill poderá roubar o tempo das marés – o ritmo das cheias e vazantes. Sem ele, o modo de vida ribeirinho está ameaçado. Frente aos relatos de subdimensionamento dos impactos em seus estudos, a empresa transnacional respondeu a SUMAÚMA que “os documentos estão sob avaliação e continua à disposição para oferecer qualquer informação adicional aos órgãos competentes”. Sobre a cerca, disse que “não existe motivo algum para que a comunidade tenha receio de entrar pela área, que, inclusive, não está cercada ou protegida fisicamente de alguma forma”. O gigante da soja entregou, em novembro de 2018, os estudos de impacto ambiental à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – e aguarda a análise do órgão para seguir adiante com o porto. Agora aguarda também uma decisão judicial.
‘Como foi feito, a gente não sabe’
Entre os ribeirinhos das ilhas de Abaetetuba, onde o horizonte é feito de rio, estão as 180 famílias do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Santo Afonso. Um dia, em 2017, elas acordaram com a notícia de que um pedaço de terra do assentamento havia sido “vendido” à Cargill. “Apareceu uma área privada, uma documentação que a gente não sabe como surgiu. Mesmo a gente sendo assentado [da reforma agrária], [servidores do governo] autorizaram que essa área fosse cedida para a Cargill. Como isso foi feito, a gente não sabe. Foi uma surpresa”, conta Dimaiko Marinho Freitas, da comunidade Igarapé Vilar, vizinha à área comprada pela empresa. SUMAÚMA teve acesso ao memorando feito pelo Ministério Público Federal que revela indícios de que o terreno foi obtido de forma irregular e com o aval suspeito de órgãos públicos. O documento conclui pela “existência de indícios de possíveis atos de improbidade, crimes funcionais e de grilagem de terra conexos”. A denúncia aponta uma aquisição irregular de 359 hectares para a construção do terminal portuário no local conhecido como Urubueua, na Ilha Xingu. Não é simples alterar a atribuição de uma área destinada para um fim, como o assentamento Santo Afonso. Por isso a apuração do MPF se debruça não apenas sobre o gigante da soja, mas também sobre a conduta de servidores da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), “por conter evidentes indícios de irregularidades, assim como condutas de particulares que podem ter configurado grilagem de terras públicas da União”.
A história dos 359 hectares é, de acordo com o MPF, composta de uma rede de atores – duas empresas, órgãos federais, servidores suspeitos e a prefeitura de Abaetetuba – em uma atuação sincronizada que revela a complexidade da grilagem, um dos crimes mais comuns na Amazônia. Em 2005, antes de o assentamento ter sido criado, o governo fez um estudo da área – e não foi identificada nenhuma matrícula em nome de terceiros. Era uma terra da União que estava sendo destinada à criação de um assentamento da reforma agrária. Quase duas décadas depois, em 2020, a Cargill comprou, por mais de 53 milhões de reais (10,7 milhões de dólares, na cotação atual), esse terreno de uma empresa – a Brick Logística. Antes, ela se chamava KF de Menezes Consultoria Logística e diz ter adquirido o terreno em 2011 – ou seja, após a criação do assentamento pelo governo federal – de uma moradora de Abaetetuba. Essa mulher, por sua vez, teria comprado a área de um oficial da Marinha Mercante e de um panificador. O documento que revela essa tramitação anterior a 2011 só apareceu nos últimos anos, segundo os ribeirinhos – em 2005, quando foi criado o assentamento, ele não constava no cartório de Abaetetuba.
Para o MPF, a documentação apresentada pela Brick sobre a compra do terreno tem indícios de ser “totalmente precária e carente de requisitos mínimos para ser considerada legal”. Apesar de ter esse documento inicial de compra do terreno, a empresa pediu à Secretaria de Patrimônio da União, em 2014, para “retirar” o terreno de dentro do assentamento. O pedido foi atendido pelo órgão em 2019 – quando a empresa pagou 1,4 milhão de reais à União pela área, em um contrato de compra e venda e de aforamento firmado por Flávio Augusto Ferreira da Silva, então superintendente da SPU no Pará. O próximo passo para o caminho ficar livre para o porto seria o Incra autorizar a “desafetação” do imóvel – ou seja, alterar a finalidade daquela área da União. Procurada por SUMAÚMA, a Brick Logística afirmou, por meio do advogado Pedro Larcher Felix Alves, que os títulos de traspasse emitidos pela prefeitura – documento que transfere a titularidade de um imóvel – “permitiram a esses particulares registrar a propriedade de terrenos em seu nome” e que “o imóvel adquirido originalmente pela Brick nunca foi ocupado ou utilizado por qualquer comunidade”. O advogado diz ainda que o PAE Santo Afonso “nunca saiu do papel”, porque o Incra não teria finalizado o processo de destinação do assentamento – que inclui registro em cartório e contrato de concessão.
O assentamento foi criado por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial. Segundo Paulo Weyl, assessor jurídico da Cáritas Brasileira, nenhuma das duas empresas solicitou o cancelamento desse documento. A organização, ligada à Igreja Católica, entrou na Justiça em 2021 para pedir a nulidade do processo administrativo que concedeu a área à Cargill. A Brick pertence a Kleber Ferreira de Menezes, que foi secretário de Estado de Transportes do Pará entre 2015 e 2018, na gestão do então governador Simão Jatene (PSDB). Como secretário de Estado do Pará, Menezes estava bem informado sobre o chamado “corredor logístico de exportação do arco Norte”, projeto de interesse do governo federal desde pelo menos os anos 1990, que prevê estruturas para o escoamento de grãos por meio dos rios paraenses e do qual o porto de Abaetetuba faria parte. Em 2016, um ano depois de sua empresa ter celebrado com a Cargill um contrato de compra e venda da área do assentamento, Menezes palestrou sobre o corredor em um seminário da Agência Nacional de Transportes Terrestres em Brasília. Em outra apresentação de Power Point, de maio de 2017, ele não citou nominalmente o porto de Abaetetuba, mas destacou “a atratividade e sustentabilidade” do projeto. Pedro Larcher Felix Alves, advogado da Brick Logística e que também é advogado do ex-secretário Kleber Menezes, afirmou que a temática do corredor “é uma das mais relevantes e importantes para o estado, sendo tratada por todos os governos estaduais, antes de o Sr. Kleber ocupar o cargo de Secretário e após ter deixado o cargo”.
Além da participação da Brick Logística, nos 15 anos que se passaram entre a criação do assentamento e a compra do terreno pela Cargill, a prefeitura de Abaetetuba emitiu dois títulos de transferência, em diferentes momentos, dessa mesma área do assentamento, que é da União. O último deles foi em 2016, em favor da Brick. “Como é que a prefeitura concede um direito sobre um bem que ela não possui?”, questiona Paulo Weyl, da Cáritas. “É um modo de forçar a barra para ter um título que não existe. Questionada, a prefeitura de Abaetetuba afirmou que os processos de titulação “tiveram como fundamento documentos que gozam de presunção de veracidade, emitidos pelos órgãos competentes”. Ainda assim, disse que enviou documentos para análise da Procuradoria Jurídica do município e que, “caso seja constatada a existência de qualquer vício na emissão do título, a prefeitura agirá de imediato”. Diante da notícia da “compra” da área pela Cargill, a associação do assentamento e a federação dos trabalhadores rurais de Abaetetuba pediram, em 2021, ao Incra e à Secretaria de Patrimônio da União a suspensão do processo de desafetação dos 359 hectares. Após três meses, o Incra concedeu a suspensão, afirmando ser necessário analisar a denúncia relacionada com a compra do terreno da União. Só que, menos de um ano depois, sem nenhuma explicação anexada ao processo, o então superintendente do Incra, Neil Duarte de Souza, autorizou a desafetação da área do imóvel. O coronel Neil, como é conhecido, foi nomeado superintendente do órgão responsável pela reforma agrária em 2019, em portaria assinada pelo então ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. Foi, à época, alvo de críticas por não ter experiência na área, já que havia atuado por décadas na Polícia Militar paraense e tinha sido eleito deputado estadual em 2014. Depois dessa passagem pelo Incra, voltou a ser eleito deputado do Pará, em 2022, pelo PL. “O Incra não investiga o caso e lava as mãos. Incide em omissão grave com o fim de facilitar o procedimento. É uma violação aos direitos dos extrativistas”, afirma o assessor jurídico da Cáritas.
Questionado sobre os motivos que o levaram a autorizar a desafetação do terreno, o coronel Neil respondeu que “foram adotadas todas as ações cabíveis e pertinentes ao caso em comento, pautadas em estritas e responsáveis análises técnicas, embasadas em robusto acervo documental, decorrentes tanto da Superintendência do Patrimônio da União, Brick Logística Ltda. e Cartório do 1º Ofício de Abaetetuba/PA”. O Incra disse em nota que está acompanhando a ação movida pelo MPF e que “vai instaurar comissão para reabertura, análise e parecer sobre o processo de desafetação”. A SPU não respondeu às perguntas de SUMAÚMA. O ex-superintendente Flávio Augusto Ferreira da Silva e seus advogados não foram encontrados. Diante da fragilidade documental relacionada aos 359 hectares, o Ministério Público chegou a questionar a “boa-fé” da Cargill. “Alegar que agiu de boa-fé ao adquirir um imóvel com a cadeia dominial [titulação] apresentada é, no mínimo, demonstração de uma ingenuidade que não se aplica a pessoas jurídicas com a estrutura empresarial das investigadas”, diz a denúncia. A Cargill afirmou em nota que “não encontrou qualquer irregularidade na matrícula do imóvel” ao analisar a documentação para a compra do terreno da Brick Logística. A empresa também reforçou que não tolera “que os direitos humanos sejam violados em quaisquer etapas da sua operação, tanto no Brasil quanto no mundo”. Caso seja construído, o terminal de Abaetetuba terá investimento de 900 milhões de reais (180 milhões de dólares), segundo a Cargill, e movimentará cerca de 2 milhões de toneladas de grãos por ano. Essa capacidade pode chegar a 9 milhões de toneladas anuais – o que exigirá 11 navios por mês para transportar essa carga.
Os cifrões apresentados pela empresa não impressionam quem vive da floresta. “Essa terra tem dono”, assegura Edwiges Bravo, da comunidade Igarapé Açu, próxima à Ilha Xingu. Com 80 anos, a mulher pequena, de olhos firmes, criou seus 13 filhos trabalhando na coleta de açaí e na pesca de peixes e camarão, “do jeito que os ribeirinhos vivem”. Edwiges teme ser expulsa da ilha onde nasceu com a construção do porto. Ela não gosta da cidade. Certa vez teve que acompanhar uma filha em uma emergência e, depois de três dias, já não via a hora de voltar para casa. É categórica: quer continuar morando em seu território. “Pra quem se criou aqui, não tem outra vida”, explica. De riso solto e cercada pela família na cozinha de sua casa, Edwiges diz que só é “brava” no sobrenome. Sua neta Kátia, que a escuta do fundo da casa, intervém, categórica: “É brava com a Cargill!”.
‘Nem os mortos têm paz’
Os moradores das ilhas de Abaetetuba sabem que a construção do novo porto será a destruição do modo de vida que conhecem. Já viram isso acontecer não muito longe dali.
Santarém, município no oeste do estado, é o futuro de Abaetetuba. Ali funciona há 20 anos o primeiro porto da empresa. Com a facilidade do transporte, os latifúndios de soja e milho avançaram rapidamente sobre a floresta, cobrindo, inclusive, locais sagrados. O cemitério na estrada que dá acesso à cidade de Belterra, vizinha ao município, está cercado por plantações de milho – lavoura plantada na entressafra da soja. Sem cerca nem muro a definir os limites, a plantação avança sobre as lápides. “Nem os mortos têm paz. Se continuar assim, os ossos vão servir de adubo para a lavoura”, lamenta Joycene Nogueira Henrique, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Belterra. A monocultura da soja também explodiu em Belterra, cidade de 18 mil habitantes às margens da BR 163, rodovia que leva os grãos produzidos em Mato Grosso até o porto do Pará. Em 2000, antes de o terminal portuário entrar em operação, havia 8 hectares de soja plantados – o equivalente a oito campos de futebol. Em 2021, a área saltou para 24,7 mil hectares – tornando os terrenos de cultivo maiores do que a área de uma capital como Recife. “Várias comunidades foram extintas”, lamenta a presidenta do sindicato. As plantações de grãos pintam a paisagem de uma cor avermelhada – em julho, quando SUMAÚMA esteve na região, o milho plantado na entressafra da soja dominava o território. Sem floresta, o sol castiga quem passa a pé ou de bicicleta pela estrada. O calor é sufocante. Os moradores apontam para as lavouras e lamentam: “Antes era uma plantação de mandioca, tinha uma comunidade aqui”.
Com a chegada da Cargill, o Planalto Santareno, região entre os municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, tornou-se palco de uma corrida por terras para a produção de grãos. Essa arremetida vem acompanhada do uso de agrotóxicos e da especulação imobiliária. Em 2000, o preço médio do hectare em Santarém e Belterra era de 50 reais, esse valor chegou a 2,5 mil reais em 2004 e pulou para mais de 4 mil reais em 2008. A monotonia da paisagem só é quebrada pelas placas de “Vende-se” ao longo das estradas. O fenômeno mostra como a ração de animais vem invadindo áreas da agricultura familiar, verdadeira responsável pela produção de alimentos no país. Dos 72,5 milhões de toneladas de soja exportados de janeiro a julho deste ano – o Brasil é o maior produtor do planeta –, 70% tiveram a China e seus rebanhos suínos como destino. “Um colega meu vendeu seu terreno no início dos anos 2000 e logo passaram o ‘correntão’. A floresta foi pro chão. Quatro anos depois, ele não comprava nem metade do seu antigo terreno pelo valor que vendeu”, lembra um agricultor, que pediu para não ser identificado. Ele já sofreu assédio para vender sua área, mas decidiu ficar. As plantações de soja também avançam em direção à aldeia Açaizal, do povo Munduruku. “É muito agressivo. Não temos mais o direito de viver como antigamente, libertos. Derrubaram a nossa floresta, acabaram com nosso igarapé”, conta Paulo da Silva Bezerra, liderança da Açaizal, enquanto monta a roçadeira para limpar seu terreno, onde produz manga, abacaxi, castanha e banana. O caminho entre sua casa e a escola da aldeia é tomado pela monocultura. A comunidade está dentro da Terra Indígena Munduruku e Apiaká, uma área ainda não oficialmente demarcada, que está em estudo desde 2018 – uma das etapas antes da decisão oficial do governo federal. Mas não há prazo para a demarcação acontecer, segundo a Funai, o que deixa o povo Munduruku ainda mais vulnerável diante do avanço do agronegócio predatório na região.
O desmatamento entre 2000 e 2022 nos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos foi de 208,9 mil hectares – quase duas vezes a área do município do Rio de Janeiro –, segundo dados do Mapbiomas elaborados a pedido de SUMAÚMA. Nesse período, o aumento da área dedicada à soja foi de 111,4 mil hectares, sendo 59% pela abertura de novas plantações e 41% com a intensificação de terrenos já desmatados. A invasão da soja na região de Santarém está ligada principalmente aos fornecedores do gigante estadunidense. A organização internacional ClientEarth entrou com uma queixa na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) pelo envolvimento da empresa com desmatamento e violação de direitos humanos no Brasil. De acordo com a ClientEarth (clique aqui para ver o documento), a Cargill não respondeu aos questionamentos sobre esses assuntos feitos pela organização de direitos humanos Global Witness. “Não há evidências de que a Cargill tenha um processo sistemático para fazer valer um mecanismo ativo de monitoramento do risco de violações provenientes de sua atividade”, afirma relatório da organização, que denuncia também o chamado “desmatamento transferido”. Ou seja, a conversão de antigos pastos em plantações de soja impulsiona a abertura de novas pastagens em áreas conservadas, causando novos desmatamentos e pressionando comunidades tradicionais. O documento mostra que a multinacional comprou de fornecedores que desmatam a Amazônia e plantam soja em áreas sobrepostas a terras indígenas no Pará – isso sem contar as violações cometidas no Cerrado, onde está grande parte dos aquíferos no Brasil.
Santarém: o passado se repete
Se Clodoaldo descobriu a invasão da soja pela barriga do peixe, os pescadores de Santarém já estão acostumados com a cena. A cidade abriga há 20 anos um terminal graneleiro da Cargill que funciona dia e noite, levando o grão armazenado em três silos até os navios atracados na orla do rio Tapajós. Com capacidade de 5 milhões de toneladas de grãos por ano, o porto recebe, em fila, as embarcações para serem abastecidas. A Cargill diz, em seu site, que o objetivo do projeto é “contribuir com o agronegócio brasileiro e com o desenvolvimento sustentável da região de Santarém”, afirmação que contrasta com a série de denúncias e questionamentos judiciais desde que o complexo começou a ser construído, em 1999. O empreendimento soterrou a praia Vera Paz, uma das principais áreas de lazer dos santarenos. Além disso, o terminal foi instalado em cima de um sítio arqueológico que guarda vestígios de ocupação pré-colombiana de cerca de 10 mil anos, área que também era um cemitério indígena. Levantamento feito pela organização Terra de Direitos afirma que o gigante norte-americano feriu ao menos nove leis, convenções e tratados internacionais com a construção do porto de Santarém. Entre as irregularidades, estão a ausência de consulta prévia às comunidades tradicionais afetadas, o início das operações (em 2003) sem um estudo de impacto ambiental e o desrespeito a quatro artigos da Constituição Federal que garantem direitos aos povos originários, meio ambiente e saúde.
Até hoje, 20 anos depois da instalação do terminal, a Cargill não fez um estudo sobre os impactos da construção para as populações indígenas e quilombolas nem realizou qualquer processo de consulta prévia, livre e informada, conforme determina a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, segundo a Terra de Direitos. Margareth Pedroso, secretária do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, resume: “Quando eu chego na sua casa, eu não vou entrando de qualquer jeito, tenho que pedir autorização”. Localizado no centro da cidade de Santarém, o conselho luta pelo direito à consulta e o reconhecimento dos impactos do porto sobre os povos indígenas afetados. “A empresa deveria fazer o estudo das comunidades tradicionais, que são estudos específicos para cada grupo étnico, além do diagnóstico climático”, reforça Pedro Martins, assessor jurídico da Terra de Direitos. Ele se refere à Lei Estadual nº 9.048/2020, que instituiu a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas. A medida determina que é dever da Secretaria de Meio Ambiente do Pará “incorporar no licenciamento ambiental de empreendimentos e em suas bases de dados a finalidade climática”. Em agosto, o MPF abriu um inquérito para apurar a ausência de diagnóstico climático no licenciamento do empreendimento da Cargill.
Enquanto a empresa se recusa a avaliar o impacto de sua atuação na emergência climática, a população sente os efeitos na pele. “A gente sabia a hora de plantar, de colher, se ia chover. Agora não, mudou radicalmente todo o comportamento da natureza, nunca se viu tanto desmatamento na região”, conta Maria Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém. Em agosto de 2020, a Cargill pediu a renovação da Licença de Operação do porto em Santarém, que foi concedida pela Secretaria Estadual em maio do ano passado. Martins, advogado da Terra de Direitos, afirma que isso ocorreu à revelia da legislação que determina a realização de estudos sobre povos tradicionais. “A Semas tem deixado a Cargill operar sem lhe impor expressamente as obrigações devidas. O que não retira a responsabilidade da própria empresa.” Em maio, uma comitiva do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) esteve em algumas regiões do Pará e constatou, em relatório, o aumento do desmatamento, dos casos de contaminação por agrotóxicos, da grilagem e da especulação imobiliária. Entre as recomendações feitas a órgãos públicos, está o pedido para que a Semas fiscalize e cancele licenças ambientais expedidas a ocupantes ilegais no território Munduruku e Apiaká do Planalto Santareno e que todo empreendimento seja precedido da consulta prévia, livre e informada.
A SUMAÚMA, a Semas afirmou que a renovação da licença do porto em Santarém “seguiu os trâmites administrativos regulares no âmbito da secretaria, nos termos da legislação vigente”. A Cargill reforçou que “como toda licença ambiental, essa traz condicionantes esperadas e que são rigorosamente cumpridas”. Questionada se houve algum ajuste em seus estudos de impacto que incluíssem populações tradicionais, a empresa disse que “não há qualquer solicitação adicional ao que foi apresentado à época do licenciamento”. A história, no entanto, se repete em círculos. Quase uma década depois do terminal portuário de Santarém, a Cargill começou a construir outro porto – em Miritituba – repetindo o padrão de violações. O novo empreendimento foi feito, outra vez, sem consultar os Munduruku que viviam na região. A Cargill afirmou a SUMAÚMA que seu estudo de impacto do porto em Miritituba já apontava a presença de aldeias Munduruku na área de influência do projeto. Segundo a empresa, em abril de 2022 a Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica, que representa os terminais portuários de Miritituba, protocolou um plano de trabalho preliminar do componente indígena e aguarda um parecer da Funai para dar seguimento ao estudo específico sobre povos tradicionais e à consulta livre, prévia e informada.
‘A pior empresa do mundo’
A comunidade resiste. Em março, a ribeirinha Eliziane Ferreira largou a comida no fogão quando soube que uma lancha da Cargill se aproximava da comunidade de Caripetuba, em Abaetetuba. Ela subiu em um pequeno barco e, junto com outras pessoas – a maioria mulheres –, fez uma barreira para impedir a entrada da empresa. Sob o sol quente, com remos em riste e gritos de “Fora, Cargill”, a lancha do gigante estadunidense foi obrigada a dar meia-volta. O almoço queimou, mas Eliziane conseguiu uma pequena vitória. As populações em risco sabem, porém, que estão lidando com um gigante com influência em todas as esferas. As violações cometidas no Brasil, somadas a outros problemas da Cargill nos Estados Unidos, Costa do Marfim e Paraguai, fizeram com que a organização internacional Mighty Earth nomeasse a multinacional como “a pior empresa do mundo”. A receita da Cargill, que é dona das marcas Pomarola, Pomodoro e Elefante, bateu recorde no ano passado no Brasil e no mundo, chegando a 126 bilhões de reais por aqui e a 165 bilhões de dólares em números globais, medidos no ano fiscal que teve início em outubro de 2021 e foi até outubro de 2022. Esse é o tamanho da sombra que avança sobre o quintal de Tucunaré, que tem na floresta seu sustento. Se, mais uma vez, o projeto da multinacional não for barrado e o porto for construído em Abaetetuba, a soja poderá ocupar não apenas o estômago dos peixes que alimentam sua família – mas sua casa e o território onde nasceu e cresceu.
‘TODA COMUNIDADE TEM ALGUÉM COM CÂNCER’
Junto com a soja, vem o agrotóxico e, com ele, as doenças. A agricultora Rita Correa de Miranda trabalhava na coleta de pimenta-do-reino quando sentiu uma dor na axila. O diagnóstico de câncer de mama veio pouco tempo depois. Ela vive na comunidade São Jorge, próxima à PA 370, que liga Santarém a Uruará, no estado do Pará. Do outro lado da estrada estende-se uma plantação de grãos: “Daqui é distante, mas quando eles passam [o veneno] lá a gente sente o ‘pixé’ do fedor, sente arder o nariz”. Os tratores jogam veneno nas plantações sob o sol quente, quando o vento é forte e pode carregar o agrotóxico por dezenas de quilômetros, apontam estudos. A pulverização de agrotóxicos sobre as lavouras pode espalhar veneno para áreas vizinhas através do ar. “Toda comunidade a que você chega tem alguém com câncer”, conta Alda Marques da Silva, da aldeia São Francisco da Cavada. “Morreu meu cunhado, o neto da minha comadre está internado, minha irmã tem câncer no útero. O veneno da soja está em todo canto.” Safra após safra, as lavouras se aproximam do território Munduruku e de outras comunidades no Planalto Santareno. Em março deste ano, uma pulverização de agrotóxico em uma plantação de soja perto da escola Vitalina Motta, em Belterra, cidade próxima a Santarém, causou a intoxicação de alunos e professores, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que multou o produtor em mais de 1 milhão de reais. “Estão acostumados”, responderam funcionários da escola quando questionados se os alunos ficaram assustados. Após a multa, o produtor afastou a produção em alguns metros.
Não é simples mostrar a relação entre adoecimento e exposição crônica aos agrotóxicos, mas Antônio Marcos Mota Miranda, médico pesquisador do Instituto Evandro Chagas, afirma que é “impossível ter esse nível de exposição e não apresentar sintomas e prejuízo para a população”. Ele diz que a situação em Belterra, onde faz pesquisa, é um “caos em saúde pública”. Outra pesquisa realizada em 2019 pela Universidade de Brasília já mostrava que os corpos hídricos de Belterra, Santarém e Mojuí dos Campos estão contaminados com pelo menos um ingrediente ativo de agrotóxico. Resíduos de glifosato, o pesticida mais usado em plantações de soja, também foram encontrados na urina de moradores da região. O consumo de glifosato correspondeu a 51% dos agrotóxicos comercializados no Planalto Santareno. Doenças como mioma uterino, leucemia, câncer de colo de útero, mama, estômago e boca têm aumentado desde 2008, com predominância dos casos em mulheres (65%), segundo tese de doutorado de pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que investigou os impactos da soja e do milho em Belterra. A agricultora Rita acabou o primeiro ciclo de quimioterapia. Entre pés de cupuaçu, banana e cana no quintal de sua casa, provavelmente contaminados por agrotóxicos, agora aguarda cirurgia para a remoção do tumor.
AVANÇA A SOJA, AVANÇAM AS AMEAÇAS
A transformação da paisagem do Planalto Santareno nas últimas décadas, da floresta Amazônica para monoculturas, revela um processo de mudança da ocupação do território que nem sempre foi pacífico. Enquanto os latifúndios avançam sobre a Amazônia, as ameaças avançam sobre os moradores que denunciam a destruição. Maria Ivete Bastos, do sindicato rural de Santarém, uma das principais vozes na denúncia das violações de direitos dos agricultores, sofreu diversas ameaças por conta da sua luta. Assim como a soja no Planalto Santareno, elas começaram sorrateiras e foram se intensificando: recados, mala de dinheiro, pistoleiros em frente de casa e nome na “lista” de marcados para morrer. “Era pra sair da luta, para deixar o povo pra lá que a terra já era deles”, conta, referindo-se a uma conversa com um pistoleiro. Ivete andava com um motorista no carro recém-comprado pelo sindicato quando foi novamente ameaçada: “Tentaram me queimar com gasolina”. O episódio ocorreu em uma comunidade distante 300 quilômetros de Santarém, onde mais de 20 casas haviam sido incendiadas. Pistoleiros tinham deixado um aviso: se Ivete pisasse lá, iria morrer queimada. “Teimei e participei da reunião”, conta a liderança. Por ser um carro recém-comprado pelo sindicato, os pistoleiros não a reconheceram e ela conseguiu escapar. Depois Ivete soube que mais casas foram queimadas “com a gasolina que era pra jogar em mim”.
Ela fala com firmeza sobre os anos de luta, mas não esconde o cansaço: “Fiquei muito mal psicologicamente, não sei quanto tempo eu chorei”. Em 2007, entrou para um programa de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos, onde ficou por dez anos. Hoje, mesmo fora do programa de proteção, ela segue denunciando as irregularidades. “Sempre sofremos crises psicológicas, mas, com todos os desafios, jamais desistirei da luta.”

Macapá. Afuá. A PF. A Operação Predadores. As Crianças. O Abuso Sexual e as Duas Prisões

O Carlos Alberto Riccelli. O Tom Cruise. A Carla Zambellii. O Mussunzinho e os Aniversariantes